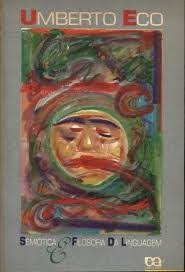
Title: Semiótica e filosofia da linguagem
Writer: Umberto Eco
Translators: Mariarosaria Fabris, José Luiz Fiorin
Dados sobre a tradução
- Classification: Ensaio, estudo, polêmica
- Publication year: 1991
- Publisher: Editora Ática, São Paulo, SP
- Language: Português
- Medium: Impresso
- Edition: 1
- ISBN: 8508038143
- Number of pages: 304
- Dimension: 14x21 cm
Dados sobre o original traduzido
- Complete translation of the work
- Título do original: Semiotica e filosofia del linguaggio
- Language: Italiano
Fierce
Umberto Eco, teórico
Por Mariarosaria Fabris
junho/2025
⠀⠀⠀Umberto Eco, natural de Alexandria (Piemonte), onde nasceu em 1932, veio a falecer em Milão, em 2016. Formado em Filosofia pela Universidade de Turim, posteriormente interessou-se pela semiótica, que lecionou na Universidade de Bolonha. Conforme registrado no verbete “Eco, Umberto” da Enciclopedia Treccani on line, para ele a semiótica foi a “ciência na qual viu um ícone de um saber interdisciplinar”.
⠀⠀⠀Como ensaísta, Eco ocupou-se de vários campos do saber, dentre os quais cultura medieval, linguística, ciência da comunicação, teorias da narração e tradução, além dos dois já citados. Em 1962, o inesperado sucesso de Opera Aperta (Obra Aberta), que ressaltava o diálogo entre uma obra e seus fruidores – “aberta”, portanto, porque sujeita à interpretação de cada leitor –, projetou o autor internacionalmente, façanha que ele repetiu ao estrear como escritor de ficção com Il Nome della Rosa (O Nome da Rosa, 1980), um dos maiores best-sellers mundiais. Este romance policial de caráter filosófico, ambientado na Idade Média e inspirado na escrita labiríntica de Jorge Luis Borges, foi publicado pela editora Einaudi de Turim, como todos seus textos ficcionais posteriores.
⠀⠀⠀Embora o próprio Eco tenha definido Obra Aberta um livro pré-semiótico – na medida em que já colocava “o problema da relação colaborativa entre texto e intérprete, depois retomado na década seguinte em chave semiótica”, nas palavras de Stefano Traini em “La Semiotica Interpretativa di Umberto Eco” –, nele “já se prefigura[va] a que posteriormente seria chamada ‘estética da recepção’” (sempre segundo o mesmo autor) pelos pesquisadores da Escola de Constança (Alemanha), a partir da segunda metade dos anos 1960.
⠀⠀⠀Além de Apocalittici e Integrati (Apocalípticos e Integrados, 1964), outro grande sucesso, em que analisou a cultura de massa e os meios pelos quais foi divulgada, Eco dedicou-se também a textos de narratologia, como Lector in Fabula (Lector in Fabula, 1979), e a reflexões sobre problemas tradutórios na obra Dire Quasi la Stessa Cosa (Quase a Mesma Coisa, 2003).
⠀⠀⠀Seu primeiro livro de teoria semiótica, La Struttura Assente [A Estrutura Ausente], foi publicado em 1968; em 1975, foi a vez de Trattato di Semiotica Generale (Tratado Geral de Semiótica), seguido, em 1984, por Semiotica e Filosofia del Linguaggio (Semiótica e Filosofia da Linguagem), no qual reuniu textos escritos para uma renomada obra de referência, como ele mesmo declarou na “Introdução” ao volume:
“Este livro reorganiza uma série de cinco verbetes semióticos escritos entre 1976 e 1980 para a Enciclopedia Einaudi. Quase cinco anos se passaram entre a redação do primeiro verbete e a do último, e muitos mais desde 1976 até a data desta introdução. Era inevitável que sobreviessem reconsiderações, aprofundamentos, novos estímulos, motivo pelo qual os capítulos deste livro, embora respeitando a estrutura geral dos verbetes originais, sofreram algumas modificações. O segundo e o quinto, particularmente, mudaram de estruturação; o quarto foi enriquecido com novos parágrafos. O novo parágrafo, porém, frequentemente serve para aprofundar o discurso original, enquanto algumas modificações menores mudam a visão geral. Isto tudo à luz de outros trabalhos que publiquei neste ínterim.
[...] este livro examina cinco conceitos que dominaram todas as discussões semióticas – signo, significado, metáfora, símbolo e código – e reconsidera cada um deles do ponto de vista histórico e em referência ao quadro teórico que esbocei nas obras imediatamente anteriores – Tratado Geral de Semiótica (1975) e O Papel do Leitor [Lector in fabula] (1979) –, sem dispensar [...] mudanças de rota. Estes cinco temas são e foram temas centrais de toda e qualquer discussão sobre filosofia da linguagem”.
⠀⠀⠀De acordo com Valentina Pisanty (no verbete “Semiotica” da Enciclopedia Treccani), a semiotica interpretativa de Eco está ligada à noção“ de Enciclopédia – já presente em Tratado Geral de Semiótica e Semiótica e Filosofia da Linguagem –, isto é a uma “espécie de ‘biblioteca das bibliotecas’ de borgiana memória, a qual faz explodir a língua fechada do estruturalismo num retículo aberto e multidimensional (mas, nem por isso desprovido de um princípio de organização interna) de interpretantes entrelaçados de forma variada”. Ao considerar, nas pegadas do pragmatista Charles Sanders Pierce, o signo como inferência (isto é, “operação intelectual por meio da qual se afirma a verdade de uma proposição em decorrência de outras já reconhecidas como verdadeiras”, na definição do dicionário Houaiss), já em Lector in fabula, Eco havia definido o texto como uma “máquina preguiçosa” que precisa da intervenção do intérprete para poder funcionar.
⠀⠀⠀Ao dividir com José Luiz Fiorin a tarefa tradutória de Semiótica e filosofia da linguagem, pela terceira vez, eu participava de uma tradução coletiva, como já havia acontecido com Contos Sicilianos (1984), de Giovanni Verga, e Do Outro Lado do Atlântico: um Século de Imigração Italiana no Brasil (Là Dov'è la Raccolta del Caffè: l’Emigrazione Italiana in Brasile, 1875-1940, 1989). Nos dois casos, cada tradutor trabalhou por conta própria. Na tradução do livro de História, eu fiquei encarregada dos cinco primeiros capítulos e Luiz Eduardo de Lima Brandão dos dois capítulos finais, correspondentes à atualização da obra por parte do autor. Iniciei a tradução em 1986, na Itália, onde fiquei seis meses graças a uma bolsa de estudos. Como sabia que lá não contaria com muito material de apoio, a não ser com um dicionário de português que carreguei comigo, antes da viagem fiz uma grande pesquisa de vocabulário em livros sobre o assunto, na biblioteca de História da USP e na Biblioteca Municipal Mário de Andrade. O correio conseguiu extraviar o envelope com o primeiro capítulo traduzido, que enviei diretamente à editora Nobel. Avisada por minha irmã, prontifiquei-me a fazer novamente a remessa, mas a editora foi irredutível (embora eu tivesse o comprovante do primeiro envio) e passou a tarefa para o outro tradutor. Confesso que me senti desrespeitada.
No caso do livro de Eco, a experiência foi bem mais positiva. Meu colega, da área de Linguística, convidou-me a participar da tradução pois precisava de alguém que soubesse bem italiano para enfrentar a tarefa de destrinchar os intermináveis parágrafos do ensaista piemontês. Aceitei, apesar de ter só algumas noções de semiótica, e assim um deu respaldo ao outro. E que respaldo! Telefonemas constantes, pequenas reuniões para as dúvidas mais cabeludas, ou seja, foi um momento de grande aprendizagem e realmente um trabalho a quatro mãos, embora cada um de nós tenha se encarregado de cerca de cem páginas do livro. E, por fim, contamos com a revisão do professor Izidoro Blikstein, especialista em Semiótica.
⠀⠀⠀Foi uma experiência enriquecedora, muito parecida com a que tive ao verter, para o italiano, artigos e comunicações de História da Arte do professor Walter Zanini, da Escola de Comunicações e Artes e do Museu de Arte Contemporânea da USP. O professor Zanini não sabia escrever em italiano, mas tinha um vasto repertório, em virtude de seus estudos na Itália. Graças a isso, tinha uma grande sensibilidade para apontar uma solução mais apropriada, o que me fez crescer muito como tradutora.
⠀⠀⠀Repeti a experiência recentemente, ao traduzir para o português Lacerba e o Futurismo Florentino (Lacerba e il Futurismo Fiorentino), tese do Dottorato di Ricerca que minha irmã, Annateresa Fabris, defendeu na Universidade de Nápoles. Isso me leva a acreditar que, quando o autor está vivo, o diálogo do tradutor com ele se torna primordial; quando não se tem o autor ao alcance da mão, uma tarefa compartilhada com um colega mais conhecedor do assunto é sempre a certeza de uma tradução melhor.
⠀⠀⠀Em 2001, foi lançada uma nova tradução de Semiótica e filosofia da linguagem, a cargo de Maria de Bragança, editada pelo Instituto Piaget de Porto Alegre.
Referências
ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem. Trad. Mariarosaria Fabris; José Luiz Fiorin. São Paulo: Ática, 1991.
Reference
ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem.Translation from Mariarosaria Fabris; José Luiz Fiorin. 1. ed. São Paulo, SP: Editora Ática, 1991.
Comments
